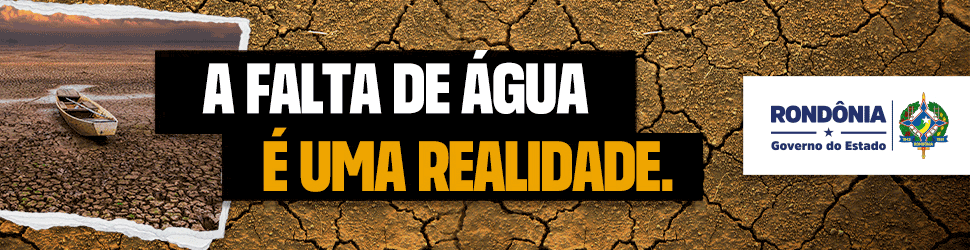A pandemia de Covid-19 e o isolamento social: saúde versus economia
Por Andrés Ferrari e André Moreira Cunha, professores do Departamento de Economia e Relações Internacionais da UFRGS
Ganha proeminência no debate atual sobre a pandemia do COVID-19 a crítica à estratégia do isolamento social. Esta se fundamenta, em essência, na ideia de que os impactos econômicos do isolamento são maiores do que os seus benefícios em termos de saúde pública. Argumenta-se que a eventual restrição de contato social deveria ser direcionada aos grupos de risco desta pandemia, qual seja, pessoas com mais de 60 anos de idade ou que sejam portadoras de doenças crônicas. Por decorrência, o resto da sociedade deveria retomar a normalidade o quanto antes a fim de reduzir os impactos econômicos desta nova forma de “parada súbita”[1].
Os defensores do “retorno à normalidade” argumentam que os óbitos causados pelo COVID-19 como proporção do total da população são inferiores àquelas mortes derivadas de outras enfermidades ou processos sociais, como assassinatos e acidentes de trânsito. E, por imposição lógica, se a economia não costuma parar em função de tais problemas, não haveria de ser impedida por efeito de um vírus ainda menos letal.
Até o momento (25 de março), as fontes oficiais[2] reportam que, em termos globais, há 459 mil pessoas que foram comprovadamente infectadas pelo COVID-19. O número de mortes associadas à pandemia é de 21 mil pessoas (5% do total), ao passo que os pacientes já recuperados são 114 mil (25%) e as pessoas que ainda estão infectadas são 324 mil (70%). Deste último universo, 310 mil pessoas (96% dos 324 mil) apresentam sintomas leves, ao passo que 14 mil (4%) demandam cuidados intensivos. Outra forma de olhar os números é a partir do universo dos 135 mil casos já considerados encerrados, pois os pacientes ou se recuperaram (85%) ou morreram (15%).
É razoável assumir que, em comparação com a população mundial de 7,7 bilhões de pessoas, o número de infectados ou mortos é ínfimo até o momento. Mais precisamente, de 0,006% e 0,0003%, respetivamente. Estas cifras podem variar em função de que o número de pessoas contaminadas é um múltiplo daquelas que estão comprovadamente com o COVID-19. Em todo o caso, isto não altera o fato de que, até aqui, há, com efeito, um argumento estatístico de que a pandemia em curso tem uma incidência baixa e que, portanto, não deveria ser uma desculpa para paralisar as economias.
A despeito da aparente lógica dos números, o raciocínio que fundamenta a proposta de “vida normal” está equivocado por diversas razões.
Em primeiro lugar, os indicadores correntes de contaminação e de óbito estão se mantendo em patamares relativamente baixos diante dos contingentes populacionais totais exatamente porque se tem aplicado como medida universal o isolamento social. Caso não houvesse o isolamento social, a população infectada poderia chegar a algo entre 60% e 80% do total mundial, conforme estimativas do Dr. Gabriel Leung, especialista que integra a equipe da Organização Mundial da Saúde e que lida com a pandemia do CODIV-19.
Com um ritmo crescente de infectados, o número total de óbitos seria, evidentemente, muito superior, com estimativas que podem variar de 1% da população mundial (77 milhões de pessoas), de acordo com os cálculos de Gourinchas[3] para o caso de que somente metade da população global se infecte e haja algum achatamento da curva epidemiológica; ou de 5% do total de habitantes do planeta, considerando 100% de infecção e nenhum achatamento, ou seja, uma mera extrapolação linear das taxas de mortalidade observadas no presente.
Em segundo lugar, o retorno à normalidade deve considerar que os eventuais contaminados que apresentam sintomas leves ou mesmo os que não possuem sintomas talvez não tenham condições objetivas – dada a desorganização dos diversos sistemas econômicos (transporte, comunicações, abastecimento etc.) e sanitários – e subjetivas (impactos psicológicos) de retornar ao trabalho.
Como supor que a vida social e econômica seguirá seu curso natural com a contaminação crescente se, mantidas as proporções atuais, 4% dos infectados apresentam sintomas graves e, com isso, demandam atenção intensiva de recursos médicos e hospitalares, inclusive leitos de UTI, equipamentos de apoio à respiração etc.? Para ilustrar o problema, basta um raciocínio simples: se 50% da população brasileira for infectada, teremos cerca de cinco milhões de pessoas que demandarão atenção especial, um número que em muito excede a capacidade humana, material e de recursos hospitalares existentes no país. O mesmo vale para os demais países.
Assim, por mais que a taxa de mortalidade da pandemia em curso seja relativamente baixa, mesmo quando comparada com outras tragédias humanitárias – pensemos nos 70 a 80 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial (ou 12% da população da época) –, os impactos sobre o sistema de saúde e o conjunto da sociedade destas cifras são realmente preocupantes para se considerar o caso de normalidade imediata.
Também por força da lógica, chegamos a um terceiro ponto: o número potencial de mortos e de pessoas infectadas que demandariam atenção especial é tão grande que possivelmente produziriam uma desorganização ainda maior do que aquela produzida pelo isolamento atual. Este tem ao menos a virtude de achatar a curva epidemiológica e reduzir fortemente o número de infectados, de pacientes graves e, principalmente, de mortos. Assim, a partir da mesma frieza dos números que os defensores da “normalidade já” nos impõem, é legítimo estimar que os custos do retorno ao mundo dos negócios podem ser maiores do que os seus benefícios. Ou ainda, maiores do que os custos do isolamento atual.
O argumento da normalidade não trata com a devida atenção do problema da velocidade de contágio e dos custos de atenção à saúde. Seus proponentes se fixam na taxa de mortalidade, que está concentrada em grupos de risco específicos. Ignoram ou omitem o fato de que, quanto antes se volte à “normalidade”, maiores serão o contágio e a pressão sobre os sistemas de saúde. A saturação destes também afetaria pacientes com outras enfermidades não relacionadas ao COVID-19. Estes poderiam se tornar vítimas casuais de uma crise que, se não pode ser evitada, ao menos pode ser mitigada.
Os proponentes da normalidade simplificam uma questão que é complexa e grave. O COVID-19 não oferece às sociedades saídas simplórias e fáceis. A vida econômica e social será profundamente afetada. Ao invés de negar a realidade, os defensores da “normalidade”, particularmente os que se localizam em posições de comando na sociedade, quer seja no setor público, quer seja no privado, deveriam estar trabalhando para minimizar os efeitos diretos – humanitários e de saúde pública – e indiretos da crise em curso.
Conforme temos demonstrado nos estudos disponibilizados neste blog da FCE[4], é isto que estão fazendo os governos dos principais países avançados e emergentes. Estão sendo mobilizados recursos entre 10% e 20% dos respectivos produtos, somente nas rodadas iniciais de enfrentamento da crise. Muito possivelmente estas cifras crescerão, na medida em que se materialize a realidade de que a crise é grave e de que seus efeitos serão longos e profundos. Diante delas, os 2% do PIB já anunciados pelo governo federal revelam a timidez da atuação estatal no país em um contexto de tamanha gravidade[5].
Para além do argumento da normalidade, há o caminho da racionalidade e da atuação estatal norteada pela busca do bem comum. Nestes marcos, e considerando a perspectiva econômica, a gestão desta crise demanda foco, serenidade e responsabilidade. É prioritário manter a produção e o abastecimento daqueles produtos e serviços considerados essenciais para a preservação da vida humana e da estrutura social. Não se deve perder tempo com discussões secundárias, ideológicas ou políticas, sobre como a sociedade deve se organizar, sobre qual o papel do Estado e dos mercados e assim por diante.
Por mais importantes que estes temas sejam, o momento demanda ação. Governos marcados por ideologias pró-mercado e anti-Estado, como Alemanha, Estados Unidos e Reino Unido, para citar alguns exemplos, estão atuando com larga margem financeira. Focam na manutenção da reprodução da vida social e, assim, na preservação de empregos, empreendimentos e rendas, percebendo que o problema central não é de restrição fiscal a priori do Estado, o que não existe quando se tem a possibilidade de emitir moeda e dívida. Mas, sim, de manutenção da ordem social.
Ainda do ponto de vista da gestão racional da crise, torna-se importante lembrar que os especialistas em saúde pública indicam que há um determinado horizonte temporal para a manutenção do isolamento social, algo entre três e quatro meses. Este pode ser maior do que aquilo que desejamos, mas permite que, pelo menos em tese, as autoridades competentes organizem os parâmetros para o funcionamento da sociedade em um padrão mínimo. Assim, por exemplo, é possível considerar: a criação de programas amplos e maciços de transferência não condicional de renda, que preserve o poder de compra das famílias, pelo menos em patamares para o atendimento de necessidades básicas; a criação de linhas de crédito a serem repassadas pelos bancos públicos em condições de taxas de juros e de prazos que permitam às empresas honrar seus compromissos essenciais (pagamentos de salários, impostos e fornecedores) e aos empreendedores autônomos sobreviver neste momento; a suspensão do pagamento das dívidas dos estados e a dilatação de prazos para pagamento das dívidas bancárias e fiscais atuais, e assim por diante.
Há tempo para atuar em um contexto de excepcionalidade, mas com vistas à manutenção da ordem e da paz social. A preservação da renda, particularmente das pessoas que dela mais necessitam, será vital para evitar um processo de contaminação na esfera econômica. Este se expressa no fato de que, sem renda, o consumo das famílias tende a desabar, pressionando ainda mais o caixa das empresas, que são forçadas a demitir, o que reduz a massa dos rendimentos do trabalho, gera nova pressão sobre as empresas e assim sucessivamente. Conforme os economistas já aprenderam – pelo menos desde a Grande Depressão dos anos 1930 – e estão adotando na prática agora, em tempos de depressão o gasto estatal para preservar a economia é questão de vida ou morte (e não uma opção ideológica).
O isolamento social pode ajudar a reduzir a contaminação e, com isso, dar prioridade ao atendimento médico das pessoas que precisam trabalhar com vistas à preservação desta base mínima de atividades sociais. Ele é necessário exatamente para que a normalidade possa se reestabelecer o quanto antes. Os especialistas já demostraram duas realidades: as taxas de mortalidade são realmente baixas, mas o risco de contaminação é muito alto. Também está demonstrado que a imensa maioria dos infectados experimentará sintomas muito leves, parecidos com os da gripe comum. Este argumento, que é corrente pelos defensores da “normalidade já”, não pode obscurecer o fato de que, se as taxas são baixas, os números absolutos tendem a ser muito altos, com efeitos dramáticos sobre o sistema de saúde. Assim, os “normalistas” falam em retomada da ordem, mas semeiam uma profunda desorganização em potencial da sociedade.
Em síntese, não praticar o isolamento social temporário pode produzir uma catástrofe social que, por decorrência, também será econômica. E não preservar as rendas de trabalhadores e empreendedores em um contexto de isolamento agravará ainda mais um quadro que já é suficientemente dramático. Serão três ou quatro meses nos quais só teremos uma certeza: não há espaço para se imaginar saídas meramente individuais. O COVID-19 está nos deixando uma mensagem dura, mas clara: ou construímos alternativas melhores em conjunto, ou pereceremos coletivamente.
[1] O termo “parada súbita” tem sido utilizado na literatura de crises financeiras para designar processos repentinos e intensos de fuga de capitais, normalmente associados a crises cambiais e de balanço de pagamentos. Seu emprego corrente se deve ao trabalho do economista Guillermo Calvo.

Agronegócio
Mercado bilionário de cálculos bovinos atrai criminosos e exige maior segurança

O mercado global de cálculos biliares bovinos, popularmente conhecidos como “pedras de boi” ou “ouro bovino”, é uma das áreas menos conhecidas, mas altamente lucrativas do agronegócio. Segundo um relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, as importações desse produto pela China cresceram 66% desde 2019, alcançando um valor de US$ 218 milhões (cerca de R$ 1,4 bilhão) em 2023.
O Brasil, maior fornecedor global, se destaca como o principal exportador, tendo triplicado suas vendas nos últimos quatro anos, para um total de US$ 148 milhões (cerca de R$ 934 milhões) no mesmo período. Embora os dados detalhados mais recentes ainda estejam em apuração, o crescimento no setor permanece evidente em 2024.
No entanto, esse mercado enfrenta desafios que vão além da logística e da biologia. O valor elevado dos cálculos biliares os torna alvo de roubos e contrabando. No Brasil, casos de assaltos e armazenamento ilegal têm sido registrados.
Em São Paulo, por exemplo, um roubo de 2,7 kg de cálculos resultou em prejuízo estimado em R$ 2 milhões. Situações semelhantes ocorrem em outros países produtores, como Argentina e Uruguai, onde investigações revelaram redes de contrabando e falsificação.
Esse mercado específico é impulsionado pela demanda da medicina tradicional asiática, onde os cálculos biliares são utilizados na produção de medicamentos para tratar transtornos neurológicos, como acidentes vasculares cerebrais e convulsões. O valor das pedras pode variar de R$ 12 mil a R$ 37 mil por quilo no Brasil e alcançar até US$ 65 por grama no mercado internacional.
A produção desses cálculos é extremamente limitada e depende de fatores biológicos. Apenas cerca de 2% das vacas desenvolvem cálculos biliares naturalmente, e eles costumam ser encontrados em gado mais velho. Para produzir 1 kg de cálculos biliares, estima-se que sejam necessários abates de aproximadamente 200 mil animais. Isso torna o produto escasso e altamente valioso.
Além do Brasil, outros países como Austrália, Colômbia, Argentina, Uruguai e Paraguai têm tentado expandir suas exportações para atender à crescente demanda, especialmente na China, que consome cerca de cinco toneladas anuais do produto, mas produz apenas uma tonelada internamente. Recentemente, a Argentina firmou um novo protocolo com a China para exportação formal, enquanto o Uruguai segue em processo de regulamentação.
Apesar das dificuldades, o Brasil mantém sua liderança no setor, refletindo a força e a competitividade de seu agronegócio. Essa posição de destaque reforça o papel estratégico do país no comércio global, ao mesmo tempo em que destaca a necessidade de protocolos claros e segurança para proteger a cadeia produtiva. Com a crescente valorização dos cálculos biliares no mercado internacional, o segmento pode se consolidar como mais uma fonte de renda significativa para o setor de proteína animal brasileiro.
Fonte: Pensar Agro
-

 Polícia7 dias atrás
Polícia7 dias atrásSolenidade de Passagem de Comando do Batalhão de Polícia Ambiental em Rondônia marca momento histórico
-

 Esporte7 dias atrás
Esporte7 dias atrásJogo de despedida de Adriano Imperador termina com vitória do Flamengo
-

 Rondônia5 dias atrás
Rondônia5 dias atrásAssistência técnica e extensão rural projetam Rondônia no cenário internacional de produção de alimentos em 2024
-

 Rondônia5 dias atrás
Rondônia5 dias atrásGoverno de RO conclui entregas aéreas de mantimentos para comunidades afetadas pela estiagem
-

 Rondônia5 dias atrás
Rondônia5 dias atrásGoverno de RO inaugura programa Prato Fácil em Jaru com meta de oferecer 268 refeições diárias
-

 TJ RO7 dias atrás
TJ RO7 dias atrásEvento voltado à Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte reúne instituições parceiras no Fórum Geral
-

 Rondônia6 dias atrás
Rondônia6 dias atrásAção realizada pelo governo de RO promove soltura de mais de 177 mil filhotes de tartarugas, no Parque Estadual Corumbiara
-

 Polícia6 dias atrás
Polícia6 dias atrás10º BPM – POLÍCIA MILITAR RECUPERA MOTOCICLETA FURTADA E APREENDE OBJETOS EM ALTA FLORESTA D’OESTE